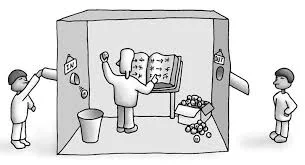Um elogio ao comum
Há
dias em que tudo parece ser apenas mais um dia. O café tem o mesmo gosto, os
passos seguem as mesmas calçadas, os rostos se repetem no espelho e nas ruas. O
tédio sussurra que nada acontece, como se a vida estivesse suspensa entre um
grande evento que já passou e outro que ainda não chegou. No entanto, é
justamente aí — nesse “nada” — que as mundanidades florescem. E talvez seja
nelas que a vida realmente acontece, mesmo que silenciosamente.
As
mundanidades são os gestos automáticos, os diálogos triviais, os compromissos
repetidos, as tarefas banais. São o pano de fundo da existência. Mas em vez de
vê-las como restos da vida, por que não entendê-las como sua estrutura
essencial? O filósofo francês Georges Perec escreveu sobre a importância
de observar “o infraordinário” — o que normalmente não prestamos atenção porque
está sempre ali. Para ele, a repetição não é sinônimo de insignificância, mas
de uma textura do viver que merece ser decifrada.
Sociologicamente,
as mundanidades são os tijolos do cotidiano. Michel de Certeau, em A
Invenção do Cotidiano, aponta que os indivíduos, mesmo dentro de sistemas
massivos e opressores, “inventam” seus modos de viver por meio de pequenas
práticas cotidianas. Escolher um caminho alternativo para o trabalho, colocar
açúcar no café com um gesto específico, ou conversar com o vizinho no portão:
tudo isso pode ser uma forma de resistência, de afirmação de subjetividade. As
mundanidades, longe de serem neutras, revelam o modo como cada um negocia seu
lugar no mundo.
Além
disso, há uma dimensão ética nessa atenção ao banal. Simone Weil propôs
que o verdadeiro amor ao outro começa pela atenção plena — e essa atenção só
pode se exercitar nas pequenas coisas. Notar o cansaço no rosto de quem serve o
almoço, escutar de fato o que alguém diz no ônibus, agradecer sem pressa. Tudo
isso é político, é espiritual, é profundamente humano.
Em
tempos de espetacularização da vida, em que só se valoriza o que é grandioso,
disruptivo ou viral, prestar atenção às mundanidades é quase um ato subversivo.
Viver o comum com presença é dizer que a existência não precisa justificar-se
por grandes feitos. Ela basta. O prato lavado com esmero, a música que toca
sempre às 18h, o cheiro do pão na padaria da esquina — tudo isso compõe uma
ética da presença.
O
filósofo brasileiro José Arthur Giannotti dizia que “a banalidade é o
que nos ancora ao mundo”. Ela nos dá o chão de onde partimos e para onde sempre
voltamos. E talvez, no fim das contas, o extraordinário não seja o oposto do
mundano, mas aquilo que emerge quando o mundano é finalmente visto.
Das
mundanidades, portanto, não como desprezo pelo brilho da vida, mas como uma
forma de perceber que o brilho está justamente na poeira das coisas simples. O
comum não é o que sobra da vida — é o que a sustenta. E talvez, ao
compreendê-lo com profundidade, possamos finalmente viver com mais presença,
mais delicadeza e mais verdade.