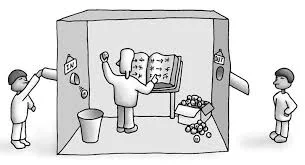Há
dias em que a gente acorda com uma dúvida que não é sobre boletos, nem sobre
prazos, nem sobre o que fazer no final de semana. É aquela pergunta antiga,
insistente, quase infantil: por que estamos aqui? Ou então: o que é o
bem? Ou ainda: o que é ser eu mesmo? Nessas horas, qualquer manual
de instruções da vida moderna falha. Não há tutorial no YouTube, nem
inteligência artificial que resolva. Somos nós diante da espessura do mundo. E
é curioso: o ser humano parece não suportar a falta de resposta para essas
perguntas grandes e vagas. Mas... será mesmo que precisa delas?
O
filósofo alemão Immanuel Kant escreveu que as questões fundamentais da
filosofia são três: “O que posso saber?”, “O que devo fazer?”, “O que me é
permitido esperar?”. E ele conclui: tudo isso se resume à pergunta: “O que é o
homem?”. Ou seja: no fim, perguntar é inevitável — e não responder também é.
O
existencialista francês Albert Camus foi ainda mais duro: segundo ele, a única
grande pergunta filosófica é se vale a pena continuar vivendo. O resto é
detalhe. Camus via o mundo como absurdo: não há resposta última, o universo não
fala conosco — mas mesmo assim, precisamos viver como se valesse a pena. Aqui
está a tensão: a mente humana quer sentido, mas o mundo não entrega.
Esse
abismo entre a pergunta e a resposta virou obra de arte na filosofia oriental
também. Lao Tsé, no Tao Te Ching, sugeria que o sentido não se revela em
palavras — “O Tao que pode ser dito não é o verdadeiro Tao” — e que a própria
busca por respostas muitas vezes nos afasta do fluxo natural das coisas. Quem
busca demais, perde o que já tem. Que ironia.
Mas
então: precisamos ou não precisamos de respostas?
Talvez
a questão seja esta: não precisamos de respostas definitivas — mas não
conseguimos viver sem perguntar. Maurice Merleau-Ponty dizia que o pensamento é
uma abertura constante para o mundo, um “estar a caminho” que nunca termina. O
ser humano não é uma criatura de respostas: é uma criatura de perguntas. E
talvez seja exatamente isso que nos salva do tédio, do conformismo, da
paralisia. O ato de perguntar é já uma maneira de viver. Ou, como diria N. Sri
Ram: "As respostas não libertam o homem — mas o impulso de buscar,
sim."
No
cotidiano, isso aparece de modo sutil. Quando alguém perde o emprego e, no
caminho de casa, se pergunta “e agora, o que faço da minha vida?” — é filosofia
viva. Quando alguém termina um namoro e se surpreende pensando “quem sou eu sem
essa pessoa?” — é filosofia de carne e osso. Quando uma criança pergunta “o que
tem depois do céu?” no meio do almoço de domingo — eis aí uma dúvida que nem
mil anos de ciência matam. A alma humana não suporta o vazio sem sentido.
Mas
há pensadores que disseram: cuidado com as respostas prontas. Søren Kierkegaard
alertava que quem quer fugir da angústia corre o risco de trair a própria
liberdade. O desespero, dizia ele, nasce justamente quando tentamos encerrar o
mistério com soluções baratas. A angústia é o sinal de que somos livres — e
viver é suportá-la sem anestesia.
Nietzsche,
por sua vez, desconfiava das respostas finais. “Toda verdade é uma ilusão que
esquecemos que é ilusão”, escreveu ele. Para Nietzsche, as respostas absolutas
são máscaras — invenções para acalmar o medo humano diante do caos da
existência. Por isso, a tarefa dele era demolir certezas e ensinar a dançar no
meio do abismo.
Simone
Weil foi mais longe: para ela, o importante não é ter respostas, mas cultivar a
atenção — uma espera sem garantia de resposta alguma. Weil via o humano como
alguém suspenso no vazio, cuja grandeza está em desejar o bem sem exigir
retorno, em perguntar sem impor resposta. Uma lição rara num mundo de pressa.
Talvez
a tragédia não seja a falta de resposta, mas o momento em que paramos de
perguntar. O filósofo brasileiro Vilém Flusser alertava que a tecnologia
moderna poderia nos encher de respostas rápidas e funcionais — mas esvaziar o
espírito da dúvida, da aventura do pensamento. Perder a pergunta é perder o
humano.
Portanto,
sim: precisamos de respostas — mas de um tipo especial. Não aquelas que
encerram a questão, como quem fecha um livro para sempre, mas as que abrem
novas possibilidades. Respostas que sejam pontes, não muros. Que conduzam ao
espanto, não ao descanso definitivo.
A
maior resposta talvez seja esta: a vida é pergunta. E enquanto houver
perguntas, há caminho.
Comentário
final: Rubem Alves e Paulo Freire
Rubem
Alves dizia que toda pergunta verdadeira é como uma semente: não nasceu para
ser enterrada num cofre de respostas, mas para germinar no terreno da
imaginação. Para ele, quem não faz perguntas já morreu um pouco — virou máquina
de repetir o que aprendeu. É a pergunta que mantém viva a alma de um povo, de
uma criança, de um sonhador. Ele sonhava com uma escola onde se ensinasse a
arte de perguntar — e não só a de responder.
Paulo
Freire pensava parecido: educar, para ele, era um ato de libertação — e toda
libertação começa com a capacidade de fazer perguntas sobre o mundo. Ele dizia
que o oprimido só se liberta quando ousa perguntar por que as coisas são como
são. O mundo muda quando alguém pergunta: "precisa ser assim?" ou
"posso inventar outra realidade?". Sem a pergunta, não há
transformação. Sem espanto, não há esperança.
Talvez,
no fundo, o ser humano não precise de respostas para descansar. Precisa de
perguntas para acordar. Fica a sensação que os seres humanos precisam de
respostas para certas perguntas que dificilmente serão respondidas.