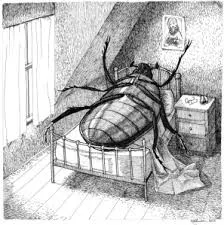Por
que fingir não saber ainda é tão necessário?
Se
você já viu alguém numa reunião de trabalho perguntar, com a cara mais inocente
do mundo: “Mas por que estamos mesmo fazendo isso?”, você presenciou um traço
da ironia socrática. Não é sarcasmo, não é zombaria. É aquela pergunta que
desarma a falsa certeza, que descola a máscara do saber técnico e revela o
vazio do automatismo. Num tempo em que todos querem parecer especialistas de
tudo — da política à nutrição, passando por filosofia de vida e investimentos —
a ironia socrática surge como um antídoto poderoso contra os discursos prontos
e os saberes engessados.
A
ironia socrática não é apenas um método filosófico de questionamento; é uma
atitude diante do mundo. Sócrates, aquele que nada escreveu e tudo perguntou,
caminhava pelas ruas de Atenas desafiando os cidadãos a explicarem aquilo que
julgavam saber. Ele fingia ignorância, mas não por vaidade ou escárnio: ele
acreditava que o verdadeiro saber começa quando admitimos não saber. Esse
fingimento, longe de ser uma fraude, era um convite. E, talvez, a modernidade
precise mais do que nunca desse convite sutil.
Nos
tempos atuais, essa ironia muda de cenário. Não está mais na ágora, mas pode
aparecer nas redes sociais, nos podcasts, nas conversas entre amigos, nas falas
de um professor que desmonta certezas com uma pergunta simples. Hoje, a ironia
socrática pode ser praticada por quem ousa interromper o fluxo das opiniões
automáticas e dizer: “Me explica melhor, por favor. O que exatamente você quer
dizer com isso?”
Essa
postura tem algo de corajoso. No mundo das aparências, quem se diz ignorante
corre o risco de parecer fraco. Mas talvez a força esteja justamente em
resistir à pressa de saber tudo. A ironia socrática moderna é subversiva porque
desacelera. Ela não propõe respostas fáceis, mas escava o chão das ideias e
revela suas rachaduras.
Além
disso, essa ironia tem um potencial ético: ela obriga o outro — e a nós mesmos
— a refletir com mais cuidado, a responsabilizar-se pelo que diz. Não basta
repetir fórmulas, slogans ou estatísticas. A pergunta socrática escava: “O que
isso significa, de fato?” É uma ferramenta contra a superficialidade, contra a
alienação do discurso, contra a embriaguez da própria opinião.
Como
escreve o filósofo brasileiro Renato Janine Ribeiro, “o que Sócrates nos
ensinou, mais que tudo, é o valor do diálogo como forma de buscar o bem”. Em
tempos de polarizações e certezas rígidas, o espírito socrático se torna mais
necessário do que nunca. Talvez devêssemos reaprender a perguntar como quem não
sabe, não para manipular, mas para encontrar juntos alguma luz no meio do
barulho.
No
fundo, a ironia socrática nos lembra que pensar não é acumular verdades, mas
depurar ilusões. E isso — nos tempos modernos, de verdades líquidas e vozes
gritadas — é quase um ato de resistência.
Vamos
as aplicações contemporâneas da ironia socrática
1.
Na educação: ensinar a perguntar
Imagine
um professor diante de uma turma que decorou fórmulas, definições, datas. A
aula flui, mas algo falta. Então o professor para e pergunta:
“Mas
por que vocês acham que isso é importante?”
Silêncio.
Essa
pergunta, que parece simples, desestabiliza. É a ironia socrática entrando em
cena: questionar não apenas o conteúdo, mas o próprio sentido do saber.
Na
prática pedagógica, o uso da ironia socrática não é zombaria, mas provocação no
melhor sentido: provocar o pensamento adormecido. Ao invés de entregar o
conteúdo pronto, o professor encena sua ignorância para que os alunos construam
argumentos, desenvolvam critérios. Ensinar deixa de ser um ato de transmitir e
passa a ser um ato de escavar juntos o que vale a pena saber.
2.
Na política: a pergunta que desarma o discurso
No
debate político, a ironia socrática é rara, mas poderosa. Ela surge quando
alguém recusa o jogo da agressividade e responde com uma pergunta
desconcertante:
—
“Você disse que quer ‘resgatar os valores da família’. Pode explicar quais são
esses valores e de onde vêm?”
Essa
pergunta, feita sem atacar, abre um buraco no discurso. A ironia socrática,
nesse contexto, desideologiza. Ela tenta separar argumento de emoção, crença de
convicção, e exige do outro mais do que frases decoradas: exige pensar.
Em
tempos de palanques digitais e trincheiras ideológicas, a ironia socrática é
como oxigênio: não grita, mas expõe. Não se impõe — convida. É o diálogo em vez
do monólogo armado.
3.
Na cultura digital: o gesto subversivo de dizer “não sei”
Nas
redes sociais, todos têm opinião sobre tudo — da vacina à guerra, da dieta ao
fim do mundo. Quem diz “não sei” parece fraco. Mas há um poder imenso nessa
frase.
Talvez
a ironia socrática hoje apareça quando alguém comenta com honestidade:
— “Desculpa, não entendi bem essa notícia. Alguém pode me explicar?”
Essa
pergunta, feita com verdadeira curiosidade, rompe a corrente da vaidade
informativa. Ela abre espaço para um novo tipo de inteligência: aquela que
prefere aprender do que parecer saber.
Aqui,
a ironia não é fingimento de ignorância, mas um ato de humildade. Uma ética da
dúvida. Uma recusa à pressa de ter razão. É a pausa que desativa a ansiedade
opinativa e reinventa o sentido de conversar.
Finalizando:
o saber que nasce da escuta
Reviver
a ironia socrática nos tempos modernos não é uma nostalgia de método, mas uma
urgência de atitude. Fingir não saber para provocar o pensamento do outro não é
manipulação: é uma forma ética de cuidado. É pedagogia, é política, é
comunicação genuína.
Num
mundo que valoriza a aparência do saber, a ironia socrática resgata a
profundidade da escuta. Ela não é contra o conhecimento — ela é contra a ilusão
de que já sabemos tudo.
Como
Sócrates, talvez devêssemos andar pelas ruas, pelos feeds, pelos corredores das
escolas e dos escritórios, apenas perguntando:
“O
que é isso que você diz saber?”
—
e, quem sabe, a partir daí, possamos pensar juntos.