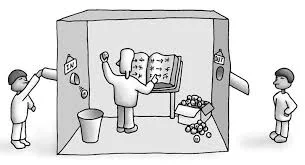O espelho social no qual ninguém quer se ver
Outro
dia, ouvi uma notícia que um grupo de turistas estrangeiros que pretendia
visitar uma favela do Rio. Falavam com a mesma empolgação de quem planeja
conhecer o Pão de Açúcar. Fiquei pensando no que, afinal, desperta o interesse
em turistar na pobreza. Seria curiosidade sociológica, empatia genuína
ou apenas o desejo de ver o “exótico”?
Enquanto
refletia sobre isso, lembrei-me de Quarto de Despejo, de Carolina Maria
de Jesus. Talvez a favela desperte tanta atenção justamente porque ela é — como
o diário de Carolina — o espelho daquilo que a sociedade esconde de si mesma.
A favela é o quarto de despejo da cidade: o lugar onde se acumulam as sobras,
mas também onde pulsa a vida que o “asfalto” não quer enxergar. E foi com essa
imagem na cabeça que voltei às páginas de Carolina, essa mulher que transformou
o lixo em literatura e a exclusão em voz.
Aí
vai um pequeno resumo da obra
Publicado
em 1960, Quarto de Despejo: Diário de uma favelada reúne as anotações
que Carolina Maria de Jesus escreveu enquanto vivia na favela do Canindé, em
São Paulo. Mãe solo e catadora de papel, ela registra com impressionante
lucidez a fome, o preconceito, a miséria e a força cotidiana de quem vive à
margem. Seus escritos — feitos em cadernos recolhidos do lixo — revelam uma
linguagem crua, poética e profundamente humana. Carolina narra não apenas sua
sobrevivência física, mas também o combate íntimo para manter a dignidade e a
esperança em um mundo que insiste em lhe negar ambas.
Um
olhar filosófico-sociológico
Ler
Quarto de Despejo é mais do que atravessar uma narrativa de pobreza; é
confrontar-se com a estrutura simbólica da exclusão. Carolina não apenas
descreve a miséria — ela a denúncia enquanto constrói sentido a partir dela. O
“quarto de despejo” é metáfora da própria favela: o espaço para onde a cidade
“empurra” aquilo que não quer ver, mas de que depende para continuar existindo.
A sociedade, como diria Zygmunt Bauman, cria zonas de descarte humano —
lugares onde os “refugos” da modernidade são deixados sem função ou voz.
E
talvez seja esse mesmo impulso — ainda que inconsciente — que leva alguns a
“turistar” nesses espaços: a necessidade de olhar, de se aproximar do real que
o conforto urbano nega. O problema é que esse olhar pode ser ético ou
voyeurístico. Carolina nos convida a olhar com empatia, não com
curiosidade. Seu diário não é um “passeio”, mas uma travessia moral.
O
olhar de Carolina devolve humanidade ao que o olhar social desumaniza. Ao
escrever, ela subverte o destino de invisibilidade que lhe foi imposto. Seu ato
de narrar é, portanto, um gesto político e filosófico. Michel Foucault
nos lembra que o poder se exerce também pelo controle da fala — quem pode dizer
o quê, e de que lugar. Ao ocupar o espaço da escrita, Carolina desafia esse
monopólio e se inscreve como sujeito da própria história, desorganizando a
hierarquia entre o saber erudito e a experiência vivida.
Pierre
Bourdieu nos ajuda a compreender esse gesto como resistência
simbólica: a autora, mesmo sem o capital cultural da elite, cria uma nova forma
de legitimidade — a do vivido. A favela, nesse sentido, não é apenas o cenário
da miséria, mas também um laboratório de humanidade.
Há,
também, uma dimensão existencial. Carolina escreve para não enlouquecer — para
organizar a própria experiência em meio ao caos. Em certo sentido, ela faz o
que Sartre chamaria de “existir antes de ser”: afirmar a própria
liberdade num mundo que a nega. A escrita é sua forma de transcendência.
Por
isso, o “turismo de favela” só faz sentido quando deixa de ser observação e se
torna escuta. O turista que lê Carolina antes de visitar uma favela
talvez chegue menos curioso e mais humilde — capaz de enxergar ali não uma
atração, mas uma presença.
Em
resumo...
Carolina
Maria de Jesus não escreveu um livro de sociologia, mas fez sociologia com o
corpo e com a palavra. Sua escrita é uma interrogação permanente sobre o que
significa ser humano em um sistema que escolhe quem merece ser visto. Quarto
de Despejo obriga-nos a abrir a porta do cômodo onde a sociedade guarda sua
culpa — e a olhar, sem desviar os olhos, para o que ali deixamos.
Talvez
o verdadeiro turismo — o mais transformador de todos — seja esse: viajar até
o desconforto do outro para descobrir o que
falta em nós mesmos.