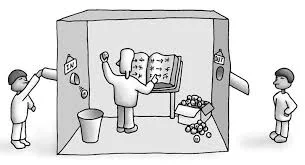A
licenciosidade do abandono começa quase sempre de modo discreto. Não é
um gesto teatral, nem uma decisão anunciada. É quando a gente deixa passar uma
mensagem sem responder, adia um cuidado consigo mesmo, tolera um desconforto
que antes não toleraria. No início parece descanso. Depois, vira hábito. E o
hábito, silenciosamente, pede licença para se instalar.
Abandonar
como quem pede permissão
Há
um tipo de abandono que não nasce da impossibilidade, mas da concessão. Não é
que não dê mais — é que deixamos. Deixamos o corpo ir ficando cansado,
as ideias repetirem, as relações perderem espessura. A licenciosidade está
justamente aí: no pequeno acordo interno que diz “tudo bem assim”, mesmo quando
algo em nós sabe que não está.
Esse
abandono é licencioso porque não se impõe à força; ele seduz. Oferece alívio
imediato: menos esforço, menos confronto, menos responsabilidade por si. Como
se a vida pudesse ser colocada em modo econômico sem custos futuros.
O
abandono de si no cotidiano
Ele
aparece em cenas banais. No trabalho, quando alguém aceita uma rotina que já
não faz sentido só para evitar o risco de mudar. Nas relações, quando se
permanece por inércia, não por presença. Em si mesmo, quando se troca
curiosidade por distração contínua — rolar a tela em vez de sustentar um
pensamento.
A
licenciosidade do abandono não destrói de uma vez; ela desgasta. É um
desinvestimento lento, quase educado. Não quebra nada, apenas vai deixando
cair.
Entre
liberdade e fuga
Há
uma confusão perigosa entre abandonar e libertar-se. Nem todo abandono é
emancipação. Às vezes, abandonar é apenas fugir do trabalho de sustentar algo
vivo. A liberdade exige escolha; o abandono licencioso exige apenas
desistência.
Filosoficamente,
isso toca num ponto sensível: a diferença entre deixar ir e largar mão. Deixar
ir pode ser um gesto ativo, lúcido, até necessário. Largar mão, quando
licencioso, é recusar-se a responder pelo próprio desejo. É quando a vida vai
sendo entregue ao automático, ao “tanto faz”.
A
falsa paz do abandono
O
abandono licencioso costuma vir acompanhado de uma paz enganosa. Menos
conflito, menos tensão, menos perguntas. Mas também menos intensidade, menos
presença, menos sentido. É uma tranquilidade morna, que anestesia mais do que
descansa.
Com
o tempo, essa paz cobra seu preço: uma sensação difusa de esvaziamento, como se
algo importante tivesse sido deixado para trás — e foi, ainda que não saibamos
dizer exatamente o quê.
Resistir
sem endurecer
Resistir
à licenciosidade do abandono não significa abraçar o controle excessivo ou a
rigidez moral. Significa reaprender a sustentar: sustentar o cuidado, o
desconforto criativo, a atenção. É escolher, repetidamente, não abandonar o que
ainda pulsa — mesmo quando cansa.
Talvez
viver com algum rigor não seja ser duro, mas ser fiel ao movimento da própria
vida. Não permitir que o abandono se disfarce de descanso, nem que a
desistência se venda como sabedoria.
No
fim, a pergunta não é “do que posso abrir mão?”, mas outra, mais incômoda e
mais honesta: do que não posso me abandonar sem deixar de ser atravessado
pela vida?