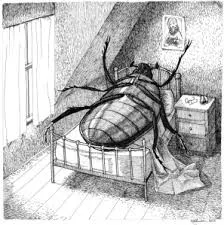Tem
lugares onde a gente pensa sem querer pensar. O banheiro é um deles. Basta
fechar a porta, escutar o som da água ou sentir o piso frio no pé descalço, que
as ideias começam a escorrer junto com o sabonete. Pensamentos aleatórios
aparecem no meio da escovação dos dentes, teorias de vida surgem entre uma
descarga e outra, dilemas existenciais brotam no vapor do chuveiro. É quase um portal
secreto para o nosso lado mais sincero — sem roupa, sem pose, sem plateia. Então
por que não mergulhar nesse espaço improvável de filosofia cotidiana, onde o
banal vira profundo e o papel higiênico pode, sim, ter um sentido metafísico.
O
Santuário Íntimo
Entre
as paredes frias da cerâmica e o eco suave da água correndo, o banheiro se
revela um espaço paradoxal: íntimo e, ao mesmo tempo, exposto. Ali, nus não
apenas em corpo, mas em pensamento, entramos em contato com nossa
vulnerabilidade e com a pulsão primária de limpeza — física e existencial.
O
Espelho e o Eu Fragmentado
Encostamo-nos
ao espelho para arrancar pelos, ajeitar madeixas e, quem sabe, medir a extensão
do cansaço refletido no olhar. Porém, o espelho devolve mais do que a imagem
habitual: mostra-nos um “eu” multifacetado, feito de traços que mudam dia a
dia. Nesse vislumbre fugidio, sentimos o eco de Heráclito: tudo flui,
nada permanece. O rosto que nos contempla durante o banho é o mesmo que, logo
depois, já não existe — mas continua a sustentar nossa sensação de identidade.
O
Fluxo da Água e a Temporalidade
A
água que cai incessante sobre nossos ombros leva embora o calor do dia e
carrega partículas de passado — uma metáfora viva para a passagem do tempo.
Cada gota que escorre sugere que, ao mesmo tempo em que nos banhamos, somos
banhados pela própria história que deixamos escapar: memórias, angústias,
expectativas. Esse rito diário aproxima-se da prática budista da atenção plena,
em que a mente se ancora no presente, gota após gota, refluxo após refluxo.
A
Solidão Cotidiana
Apesar
de estarmos sós, a solidão do banheiro não é estranhamento. Antes, é acolhida:
um breve intervalo entre “mundo de fora” e “mundo interior”. Em meio ao som da
descarga ou ao chiado do chuveiro, revisitamos diálogos antigos, formulamos
respostas que jamais diremos em voz alta. Esse espaço torna-se um laboratório
de pensamentos, onde experimentamos versões de nós mesmos antes de
reaparecermos para os outros.
A
Limpeza e a Renovação
Limpar-se
é simbolicamente renovar-se. Enxaguamos não só a poeira, mas as marcas de um
dia intenso — e, quiçá, algumas de nossas certezas desgastadas. A lógica é
quase alquímica: substâncias simples (sabonete, água) transformam o bruto em
limpo, o velho em possibilidade. Em cada esfregão de esponja, ensaiamos uma
pequena revolução existencial: rasgamos a fímbria do passado que teima em
aderir.
Objetos
Cotidianos como Ícones Filosóficos
O
sabonete: efêmero em seu uso (desfaz-se em espuma), evoca a
brevidade da vida.
O
ralo:
ponto de fuga, lembrete de que tudo o que deixamos ir é recolhido por circuitos
ocultos, tal como as experiências que moldam o inconsciente.
O
chuveiro: moderador de intensidade (quente, morno, frio),
lembra a impermanência e a condição de autoregulação diante dos desafios.
Comentário
de Mário Sérgio Cortella
Nas
palavras de Cortella, “há uma enorme riqueza em percebermos as pequenas pausas
do cotidiano” — justamente porque nesses momentos singulares somos convidados a
pensar não o que precisamos fazer, mas quem somos. O banheiro, para ele,
funciona como um “túnel de silêncio” onde a reflexão não é distração, mas um
gesto de cuidado com a própria existência.
Do
Banho ao Recomeço
Ao
final do ritual, emergimos revigorados — fisicamente limpos e mentalmente
reordenados. Carregamos conosco o exercício singular de ter parado, ainda que
por minutos, para nos contemplar. E, assim, prontos para reaparecer no mundo,
experimentamos, no espelho da última gota, a coragem de continuar a nos
reinventar.
Talvez
o banheiro seja o único lugar do mundo onde todo mundo vira filósofo sem
diploma. Ali, sentados no trono da humanidade, entre azulejos e reflexões,
questionamos o sentido da vida, o porquê das segundas-feiras e até o motivo de
nunca conseguirmos lembrar se já passamos o condicionador. É nesse cubículo
sagrado que grandes decisões são tomadas: relacionamentos terminam, ideias de
negócios geniais nascem (e morrem logo após a descarga), e até planos para
salvar o mundo são esboçados — geralmente com o cotovelo apoiado no joelho e o
olhar perdido no rejunte da parede.
- “Não é no silêncio que nos calamos, mas
no eco das nossas reflexões.”
—
Reflexões de banheiro, onde o ordinário se transforma em extraordinário,
gota a gota.