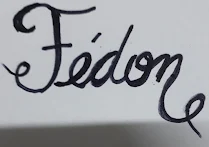A
arte de morrer, a urgência de viver!
Li
algumas vezes a obra Fédon, escrita por Platão, é um dos mais
importantes diálogos filosóficos da tradição ocidental. Ambientada nas últimas
horas de vida de Sócrates, a narrativa apresenta uma profunda reflexão sobre a
morte, a imortalidade da alma e o verdadeiro papel da filosofia. Embora
estruturado como um diálogo entre Sócrates e seus discípulos, o texto possui
uma densidade argumentativa que o aproxima de um tratado filosófico, com
momentos dramáticos e emocionais que ressaltam a serenidade do filósofo diante
da morte. Considerado parte do chamado período médio da obra platônica, o Fédon
combina razão e mito para apresentar uma visão espiritualizada da existência,
desafiando o leitor a pensar sobre o valor da alma e a preparação para uma vida
justa e reflexiva.
A
história é conhecida: Sócrates está prestes a morrer. Reunido com seus amigos,
não lamenta, não se revolta, não clama por clemência. Fala. Pergunta. Responde.
Ensina. E bebe a cicuta com uma tranquilidade que faria corar até o mais
convicto estoico. É neste cenário que se desenrola o diálogo Fédon, de
Platão, talvez um dos textos mais belos já escritos sobre a morte — e,
paradoxalmente, sobre a vida.
Mas
há algo curioso logo de início: Platão, o autor, não estava presente
nesse momento. Fédon nos conta que ele estava doente. A ausência do discípulo
mais fiel na hora da morte do mestre pode parecer estranha. Mas talvez seja
exatamente isso que a filosofia faz: transforma a ausência em presença pela
linguagem. Platão não precisa estar na cena para que a cena nos alcance.
I.
O suicídio e a confiança na ordem do mundo
Logo
no início do diálogo, um tema delicado é tratado com coragem: o suicídio.
Sócrates, que está por morrer, diz que o homem não deve tirar a própria vida.
Mesmo desejando se libertar do corpo para alcançar o verdadeiro saber, não é
legítimo antecipar essa separação.
Por
quê?
Porque,
diz ele, nós pertencemos aos deuses. Estamos aqui como guardiões de algo
que não nos pertence inteiramente. Matar-se seria como abandonar um posto sem
permissão. É uma visão que mistura religião, ética e política espiritual: não
somos donos da nossa vida — somos seus cuidadores temporários.
Hoje,
quando o tema do suicídio é abordado por psiquiatras, terapeutas e familiares
com extremo cuidado, vale revisitar esse ponto filosófico: será que pensar
que a vida tem um propósito maior ajuda a suportar a dor de estar vivo?
Sócrates parece dizer que sim — mas não com uma resposta dogmática, e sim com
uma postura de confiança no mistério do mundo.
II.
A alma que sobrevive ao corpo
O
grande tema do Fédon é a imortalidade da alma. Sócrates tenta
provar que a alma não morre com o corpo — ou pelo menos, que há fortes razões
para crer nisso. Os argumentos são variados e sofisticados, mas o que mais
chama atenção não é a lógica, e sim a serenidade com que ele fala do que
vem depois.
Se
a alma existia antes do corpo, e se aprender é lembrar (como Sócrates defende
no argumento da reminiscência), então talvez a morte não seja um fim, mas um
retorno.
Sócrates
não afirma tudo isso como dogma. Ele investiga. Ele convida seus amigos a
pensar com ele. E talvez aqui esteja o ponto central: a crença na
imortalidade da alma não precisa ser certeza — basta que ela inspire uma vida
melhor.
No fim das contas, mesmo que a alma não seja imortal, uma vida guiada por essa
ideia pode ser mais digna do que uma vivida como se tudo acabasse aqui.
III.
A separação entre corpo e alma: um alerta para o presente
Sócrates
acredita que o corpo atrapalha a alma. O corpo sente dor, prazer, sono, fome,
medo — e essas sensações confundem, distraem, enganam. Por isso, o filósofo
verdadeiro tenta se afastar das ilusões corporais para cuidar da alma.
Hoje,
em um mundo saturado por estímulos — telas, sons, compras, selfies — talvez
essa ideia soe mais atual do que nunca. Vivemos uma vida do lado de fora,
enquanto a alma espera, esquecida, no fundo da mente.
Cuidar
da alma, hoje, não é desprezar o corpo, mas talvez seja aprender a ouvir o
que em nós não grita. A parte que não aparece na vitrine. A parte que se
alimenta de silêncio, de verdade, de beleza.
IV.
Filosofar é ensaiar a morte
“Os
que praticam verdadeiramente a filosofia estão se preparando para morrer.” —
diz Sócrates.
Mas
não se trata de desejar a morte. Trata-se de morrer antes da morte:
morrer para o ego, para o orgulho, para as falsas necessidades. Filosofar,
nesse sentido, é desapegar-se do que é passageiro para viver em sintonia com
o que é eterno.
Hoje,
vivemos como se nunca fôssemos morrer. Corremos atrás de metas, acúmulos,
títulos, curtidas. E quando a morte aparece, parece um acidente. Sócrates
propõe o contrário: colocar a morte no centro da vida. Não para temê-la,
mas para que tudo o que fizermos tenha peso, beleza e verdade.
V.
A ausência como presença
E
então, chega o fim. Sócrates bebe a cicuta. A respiração enfraquece. Os olhos
se apagam. E ele diz:
“Critão,
devemos um galo a Asclépio. Não se esqueça de pagar a dívida.”
Asclépio
era o deus da cura. O que Sócrates quer dizer?
Talvez
que a morte foi, para ele, uma cura. Não do corpo, mas da alma — ou do
exílio da alma no corpo. Uma libertação final.
E
aqui, a ausência de Platão se transforma: ele não estava no momento da morte,
mas fez da morte uma lição para todos os tempos. Porque escrever é isso:
inscrever a ausência no tempo.
Epílogo:
e nós?
O
Fédon não nos pede fé cega. Não exige conversão. Mas nos desafia a
viver como se a alma importasse mais que o corpo. Como se a verdade valesse
mais que a aparência. Como se viver fosse mais do que durar.
Talvez
essa seja a verdadeira imortalidade: viver de tal forma que, mesmo depois da
morte, continuemos vivos nas ideias, nas escolhas e nos olhos daqueles que
olham para o mundo com mais profundidade — como os amigos de Sócrates olharam
para ele naquele último dia.