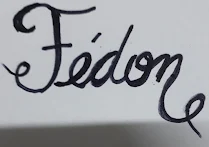Às vezes, enquanto
caminho pela rua ainda meio sonolento, percebo que cada pessoa que cruza meu
campo de visão carrega um mundo inteiro na cabeça — um mundo que ninguém vê,
mas que ordena tudo o que ela faz. É curioso como essa dimensão interior,
silenciosa e quase sempre invisível, molda nossos gestos, expectativas e até
nossas frustrações. Outro dia, enquanto esperava o ônibus, fiquei observando um
senhor que conversava sozinho. Talvez estivesse revisando mentalmente as tarefas
do dia, talvez falando com memórias; quem sabe estava apenas arrumando uma
desculpa para não se sentir tão só. Mas ali, diante de mim, estava a
materialização do imaginário humano: essa linguagem secreta que cada um fala
consigo mesmo.
O imaginário dos homens
funciona como uma espécie de segundo ambiente. Não é apenas fantasia, mas a
força estruturante que nos permite sustentar o real, reinterpretar o que vemos
e domesticar aquilo que nos escapa. É nele que guardamos as imagens fundamentais
da infância — as primeiras heroicidades, os primeiros medos — e também os
modelos de vida que tentamos, às vezes desastradamente, imitar.
Penso sempre no quanto o
imaginário é mais poderoso do que a realidade objetiva. Basta reparar no
cotidiano: quantas relações terminam não pelo que de fato acontece, mas pelo
que alguém imagina que aconteceu? Quantos projetos desmoronam porque o imaginário
da derrota se impôs antes mesmo que o primeiro passo fosse dado? Quantos
conflitos sociais não são alimentados por fantasias compartilhadas, por
estereótipos endurecidos, por mitos que deveriam ter sido aposentados há
décadas?
Para entender essa força,
gosto de recorrer ao pensamento de Cornelius Castoriadis, um dos que
mais profundamente refletiu sobre o imaginário. Ele afirma que o imaginário não
é mero espelho da realidade, mas uma potência criadora que institui
significações. Ou seja: não vemos o mundo tal como ele é, mas tal como somos
capazes de imaginá-lo. Castoriadis dizia que toda sociedade se funda sobre um
imaginário social — uma grande ficção organizada, compartilhada, que dá sentido
ao que fazemos sem que percebamos.
Trazendo isso para a vida
diária, fica evidente: somos educados para imaginar o sucesso como velocidade,
o amor como perfeição, o corpo como máquina sempre em forma e a felicidade como
uma linha reta. Nenhuma dessas imagens é real em si; são construções,
idealizações, molduras para enquadrar nossa experiência. Mas o problema é que
muitas vezes confundimos a moldura com o quadro. E sofrermos por não caber no
desenho que nós mesmos reforçamos.
O imaginário dos homens é
também o lugar onde escondemos nossas sombras. Criamos histórias internas para
justificar medos, sustentamos autoimagens heroicas para evitar encarar
fragilidades, inventamos antagonistas para dar coerência ao caos. No fundo, cada
um de nós é um contador de histórias — histórias que acreditamos antes de
qualquer outra coisa.
Castoriadis
nos lembraria que, se o imaginário cria, ele também pode recriar. Ou
seja: podemos revisitar nossas imagens internas, romper com algumas, reinventar
outras. Isso é profundamente libertador. Talvez seja por isso que certas
conversas — aquelas em que finalmente conseguimos dizer o que o imaginário
escondia — têm o poder quase mágico de reorganizar a vida.
No fim das contas, o
imaginário dos homens é a prova de que não vivemos apenas no mundo: vivemos
também dentro de nós. E se esse espaço pode ser prisão, também pode ser
possibilidade. A pergunta que fica é simples, mas desafiadora: quem está
criando o imaginário que estamos vivendo? Somos nós — ou estamos apenas
repetindo imagens que herdamos sem perceber?
Talvez a verdadeira
maturidade seja justamente aprender a imaginar melhor. A cultivar imagens
interiores que sustentem nossa humanidade, e não que nos reduzam a caricaturas
de nós mesmos. Porque, no fundo, aquilo que imaginamos — de nós, dos outros, do
futuro — é o que decide o tamanho da vida que conseguimos viver.