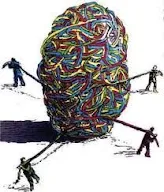O
que nos move e o que nos esgota
Nunca
saímos do momento presente! Esta frase não sai da minha mente, ela fica
martelando a cabeça o tempo todo, eis que meus pensamentos me conduziram naquilo
que a maioria das pessoas faz que é trabalhar, o ser humano de maneira geral
adquire valor através do trabalho, pelo menos é assim que nosso mundo entende,
mas nem sempre o trabalho foi visto como valor. Já foi castigo divino,
obrigação de escravos, necessidade dos pobres. Hoje, ele se confunde com
identidade: quem é você? “Sou dentista.” “Sou entregador.” “Sou gerente.” O verbo
“ser” aparece antes mesmo de qualquer outra coisa — como se o que fazemos
definisse quem somos. Na verdade, penso que estamos por enquanto, agora uma
coisa e daqui a pouco outra.
Mas
de onde vem essa ideia? Por que tantas pessoas se sentem culpadas quando não
estão produzindo? Por que o desemprego causa vergonha, mesmo quando não é culpa
de ninguém?
A
resposta começa com um olhar sociológico: o trabalho é uma construção social.
Ele não é natural, nem sempre teve o mesmo sentido. A forma como pensamos e
sentimos o trabalho é atravessada por ideologias — sistemas de crenças
que nos ensinam o que é certo, o que é bonito, o que é digno — e também por experiências
psicológicas que marcam profundamente nossa relação com o mundo e conosco.
A
maquiagem ideológica do trabalho
Na
sociedade capitalista, o trabalho é exaltado como virtude. Desde pequenos,
aprendemos que “quem trabalha vence” e que “o esforço traz recompensa”. Essas
frases soam nobres, mas muitas vezes escondem realidades duras.
Um
exemplo atual é o do entregador de aplicativo. Ele pedala o dia inteiro, sem
salário fixo, sem direitos, sem proteção social. Mas as empresas o chamam de
“empreendedor”. Essa ideia é uma maquiagem ideológica: transforma um
trabalhador precarizado em um herói moderno da liberdade. Ao dizer que ele “é
seu próprio patrão”, esconde-se que ele está preso a um sistema algorítmico,
instável e impessoal.
Essa
ideologia do empreendedorismo individual vende liberdade, mas entrega solidão e
risco. A responsabilidade pelo sucesso ou fracasso recai apenas sobre o
sujeito, nunca sobre o sistema.
A
psicologia de quem se sente culpado por não render
A
consequência disso aparece no plano psicológico. Muitos trabalhadores
internalizam a ideia de que não estão se esforçando o suficiente. Mesmo
exaustos, pensam que precisam “fazer mais”, “entregar mais”, “ser melhores”. O
cansaço vira fracasso pessoal.
Além
disso, vivemos hoje sob a promessa do “trabalho com propósito”. Não basta mais
pagar as contas — o trabalho tem que ser apaixonante. Essa exigência cria
angústia. Afinal, e se meu trabalho não for incrível? E se eu não amar o que
faço? A culpa bate como se a vida estivesse errada.
E
o desemprego, então? Ele não é só falta de renda — é quase um luto. A pessoa
perde não só o salário, mas também o sentido, o pertencimento, a rotina. A
ideologia do mérito ensina que “quem quer, consegue”, e o desempregado passa a
se sentir um fracassado, mesmo sendo vítima de uma crise, de uma
reestruturação, de algo muito maior do que ele.
Não
se pode ignorar que há religiões que associam o sucesso profissional e a
melhoria das condições de vida a uma espécie de reconhecimento ou bênção
divina. Nesse contexto, aqueles que não conseguem progredir, obter um emprego
digno ou melhorar sua situação econômica podem acabar se sentindo excluídos
desse suposto favor divino. Psicologicamente, isso pode gerar um profundo
sentimento de rejeição, como se o amor de Deus não os alcançasse. O resultado é
uma carga emocional de frustração, derrota e desânimo — sentimentos que, longe
de impulsionar a pessoa, muitas vezes a paralisam e dificultam ainda mais seu
progresso.
A
sociologia que desnaturaliza tudo
A
sociologia nos convida a olhar tudo isso com outros olhos. Ela mostra que o
trabalho, como o conhecemos, foi moldado por séculos de disputas,
transformações e imposições culturais. A ideologia faz com que certas formas de
trabalho sejam vistas como “superiores” (advogado, médico), enquanto outras,
essenciais, sejam desvalorizadas (faxineiro, motorista, cuidadora).
O
sociólogo Max Weber, por exemplo, analisou como a ética protestante
ajudou a criar a ideia moderna do trabalho como dever moral. Já Karl Marx
denunciou a alienação: o trabalhador moderno perde o controle sobre o que
produz, e ainda assim é convencido de que deve se orgulhar disso. Pierre
Bourdieu mostrou como o trabalho também é um capital simbólico — ele dá
prestígio, status, reconhecimento, ou a falta disso.
E
entre os brasileiros, José de Souza Martins nos lembra que o trabalho é,
ao mesmo tempo, meio de inclusão e exclusão. Ele pode dignificar ou degradar.
Pode dar sentido ou sugar a alma.
Entre
o dever e a identidade
No
fim das contas, o trabalho está no centro de uma encruzilhada. Ele é
necessário, mas também pode ser opressor. Pode ser fonte de autoestima ou de
adoecimento. E muitas vezes, as ideologias nos ensinam a amar o que nos
explora, e a nos culpar pelo que nos falta.
Por
isso, entender o trabalho não é só falar de salário, função ou carreira. É
também entender como nos construímos como sujeitos — e como podemos nos
libertar, aos poucos, da ideia de que o trabalho define todo o nosso valor.
Talvez
seja hora de recuperar o sentido mais amplo da vida: trabalhar, sim, mas também
viver, pensar, sentir, pertencer. Nem toda vocação precisa ter crachá. E nem
todo sucesso se mede por produção.