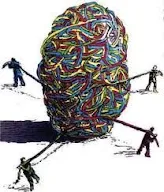Há
coisas que hoje acontecem tão rápido que não dão tempo nem de chamar de
espanto. A gente apenas desliza o dedo na tela, recebe a notícia, reage com um
“ah, que legal” e segue a vida. Se alguém do século XIII aparecesse agora na sala,
talvez se ajoelhasse diante do Wi-Fi. Nós, não. Para nós, o extraordinário
virou pano de fundo. É nesse ponto que o milagre moderno começa a ficar
interessante: não porque ele deixou de existir, mas porque perdeu o nome.
Durante
séculos, milagre era aquilo que interrompia a ordem do mundo. Um cego que vê,
um morto que anda, o mar que se abre. Hoje, a ordem do mundo já nasce
interrompida. Nada parece estável o suficiente para ser “quebrado” por um
milagre. Tudo muda, tudo atualiza, tudo se reinventa.
O
milagre moderno, curiosamente, não rasga as leis da natureza; ele as explora
até o limite. Não é Deus suspendendo a gravidade, é o ser humano aprendendo a
desobedecê-la parcialmente. Voar, falar com alguém do outro lado do planeta,
armazenar uma vida inteira em um bolso — tudo isso seria lido como prodígio em
qualquer outra época. Mas como vem acompanhado de manual de instruções e termos
de uso, deixa de soar sagrado.
O
sagrado, talvez, tenha sido terceirizado para a técnica.
O
problema não é a ausência de milagres, mas a inflação deles. Quando tudo é
possível, nada parece milagroso. A novidade dura pouco; logo vira obrigação. O
que ontem era assombro, hoje é defeito se não funcionar.
Aqui
surge um paradoxo: o milagre moderno não provoca silêncio, mas ansiedade. Ele
não convida à contemplação, mas à atualização constante. Não se diz mais
“graças a Deus”, e sim “ainda bem que tinha sinal”. O espanto foi substituído
pela expectativa, e a gratidão, pela reclamação.
Talvez
o milagre moderno seja justamente este: conseguir viver rodeado de prodígios
sem enlouquecer completamente.
Mas
há um tipo de milagre que ainda escapa aos algoritmos. Ele não aparece em
manchetes, não vibra no bolso, não precisa de tomada. É o milagre da
interrupção interior. Parar. Escutar. Mudar de ideia. Perdoar quando tudo
empurra para o ressentimento. Continuar humano num mundo que recompensa a
pressa e a performance.
Num
tempo em que tudo pede reação imediata, pensar antes de responder já é quase
sobrenatural. Em uma cultura que valoriza a exposição, preservar o silêncio
virou ato raro. Em meio à lógica da substituição — pessoas, objetos, opiniões —
insistir em cuidar do que é frágil pode ser o milagre mais improvável de todos.
Não
porque seja impossível, mas porque exige esforço onde o mundo promete
facilidade.
Talvez
o milagre moderno não esteja no que acontece fora, mas no modo como algo nos
desloca por dentro. Um encontro que muda o eixo da vida. Um livro lido por
acaso. Uma conversa que desmonta certezas antigas. Nada explode, nada brilha,
mas depois disso o mundo não é mais o mesmo.
Esse
tipo de milagre não viola leis físicas, mas desorganiza mapas mentais. Ele não
cura o corpo, mas mexe no sentido. E sentido, hoje, é artigo raro.
O
milagre moderno não pede testemunhas, likes ou certificados. Ele acontece quase
sempre à revelia do espetáculo. É discreto, silencioso, até meio constrangedor.
Não rende postagem. Às vezes nem dá vontade de contar.
E
talvez seja justamente aí que ele resista: no que não pode ser transformado em
conteúdo. No que não vira produto. No que não se mede.
Num
mundo que explica quase tudo, o milagre moderno não é aquilo que desafia a
ciência, mas aquilo que desafia a indiferença. Continuar se espantando — não
com o novo gadget, mas com o fato de ainda haver algo que nos toque — pode ser,
hoje, a forma mais radical de milagre.
Não
porque o céu tenha se aberto, mas porque, por um instante, nós nos abrimos.