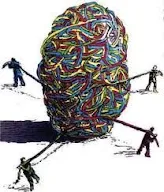Vamos
pensar sobre o Que De Fato Importa na Vida Para Que a Vida Seja Bem Vivida
É
curioso como passamos boa parte da vida organizando as gavetas erradas.
Dobramos roupas que não vamos usar, colecionamos diplomas que não dizem quem
somos, alimentamos relações que não nos reconhecem. Vivemos, muitas vezes, em
modo automático, presos numa coreografia repetitiva de compromissos e
obrigações. Mas a grande pergunta — talvez a única realmente importante —
permanece em silêncio no fundo do peito: o que, afinal, importa para que a
vida seja bem vivida?
I.
A Importância de Perguntar
Comecemos
do começo. Antes de qualquer resposta, há o valor da pergunta. Só perguntar já
é um sinal de despertar. A maioria das pessoas não se pergunta, apenas reage. E
o problema de não se perguntar é que se acaba vivendo uma vida de segunda mão —
feita de expectativas herdadas, desejos encomendados, conquistas que valem só
para os outros.
Sócrates,
o velho teimoso da Ágora, já dizia: “Uma vida não examinada não vale a pena
ser vivida.” Talvez porque viver sem examinar é como atravessar uma
floresta de olhos vendados — até se pode caminhar, mas não se sabe se está indo
para o alto de uma montanha ou para dentro de um pântano.
II.
Importa Ter ou Ser?
Vivemos
sob a tirania do ter: ter dinheiro, ter sucesso, ter seguidores, ter um corpo
“ideal”, ter controle. Mas se a vida bem vivida se resumisse ao acúmulo, os
milionários seriam os mais felizes — e não são. Basta conversar com um deles em
um momento de insônia. No fundo, o “ter” é um suporte frágil demais para
sustentar o peso da existência.
Já
o “ser” — esse é silencioso, mas profundo. Ser gentil quando ninguém está
olhando. Ser curioso diante do desconhecido. Ser fiel ao que se ama, mesmo que
dê trabalho. Ser inteiro naquilo que se faz, mesmo que seja apenas lavar a
louça. Ser é quando deixamos de representar um papel e começamos a dançar a
própria música.
III.
A Importância das Pequenas Coisas
Um
erro comum é achar que uma vida bem vivida precisa ser grandiosa, espetacular,
cinematográfica. Mas talvez a vida boa esteja no ritmo das coisas pequenas:
o cheiro do café pela manhã, o riso de um filho, a escuta atenta de um amigo, a
caminhada sem rumo num fim de tarde. O filósofo japonês Daisetsu Suzuki dizia
que o zen está em “fazer uma coisa de cada vez, com plena atenção”.
A
vida que vale a pena não se mede em feitos, mas em presença. E estar
presente, hoje, é quase um ato de rebeldia. Quantos de nós estão realmente onde
estão?
IV.
A Importância de Pertencer
Ser
humano é também ser parte. Ninguém vive bem isolado. Precisamos de uma rede —
de afetos, de significados, de escuta. Não se trata apenas de ter amigos, mas
de saber partilhar a existência: dores, alegrias, silêncio.
Maurice
Merleau-Ponty dizia que a carne do mundo é comum — somos feitos da mesma
matéria que tocamos. Por isso, a vida bem vivida precisa de vínculos, mas
vínculos livres, e não prisões afetivas. Laços que fortalecem, não que sufocam.
V.
A Importância de Morrer um Pouco
Estranho,
talvez, dizer isso. Mas viver bem implica morrer um pouco ao longo do caminho.
Morrer para antigos eus. Morrer para verdades que já não nos servem. Morrer
para identidades que se tornaram cárceres. A impermanência, como diz o budismo,
é o tecido da existência.
A
vida boa, então, é aquela em que aprendemos a soltar, em vez de
acumular. Soltar medos, padrões, ilusões. O que fica, depois que tudo cai, é o
que importa.
VI.
E Afinal, o Que Importa?
Importa
viver com sentido, mais do que com sucesso. Importa sentir, mais do que vencer.
Importa ser presença, mais do que performance.
Importa
olhar para trás, um dia, e perceber que não fomos apenas passageiros, mas que fomos
inteiros em nossos amores, escolhas, silêncios. Que tropeçamos com
dignidade. Que nos reinventamos quando necessário. Que, acima de tudo, fomos
fiéis àquilo que dava brilho ao nosso olhar.
Como
escreveu Fernando Pessoa pela boca de seu heterônimo Ricardo Reis:
“Para ser grande, sê inteiro: nada / Teu exagera ou exclui. / Sê todo em
cada coisa. Põe quanto és / No mínimo que fazes.”
E
talvez seja isso. Uma vida bem vivida não é aquela que teve tudo, mas aqui e
agora.
.jpg)
.jpg)