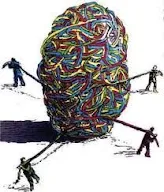Como
quem pensa alto, penso que há dias em que nada acontece — e, ainda assim,
alguma coisa nos atravessa. Não é alegria, nem tristeza. É um silêncio com
peso. A gente abre a janela, vê o céu fazendo o que sempre fez, e sente um leve
desconforto: como isso continua existindo sem pedir explicação? É nesse
intervalo estranho, entre o banal e o inexplicável, que moram o espanto e a
reverência. Não como sentimentos raros, mas como modos de estar no mundo que
desaprendemos a usar.
Vivemos
treinados para reagir, não para nos espantar. Para dominar, não para
reverenciar. O ensaio que segue é um convite a desacelerar o gesto automático e
reaprender dois movimentos antigos do espírito: o espanto que abre, e a
reverência que sustenta.
Desde
Aristóteles sabemos — quase de cor, mas pouco de corpo — que a
filosofia nasce do thaumázein, do espanto. Mas o que raramente se diz é
que o espanto não nasce do extraordinário: ele nasce quando o ordinário falha
em se explicar sozinho.
O
espanto é uma fratura no hábito. É quando algo, sem fazer barulho, desarma
nossas categorias.
No
cotidiano, ele aparece de forma discreta:
- quando uma criança faz uma pergunta
óbvia demais (“por que as pessoas envelhecem?”) e nenhuma resposta
funciona;
- quando um pai percebe, de repente,
que a voz do filho mudou;
- quando alguém, no ônibus lotado, olha
um rosto desconhecido e se dá conta de que ali há uma vida inteira
inacessível.
O
espanto não é ignorância; é lucidez súbita. Ele nos mostra que sabemos menos do
que fingimos — e isso, paradoxalmente, nos torna mais atentos.
Mas
o espanto, sozinho, é instável. Ele pode virar curiosidade superficial, consumo
de novidade, ansiedade por mais estímulos. Para não se perder, ele precisa de
um segundo gesto: a reverência.
A
palavra reverência costuma causar desconforto moderno. Parece coisa de
religião antiga, hierarquia rígida, obediência cega. Mas filosoficamente,
reverenciar não é se diminuir — é reconhecer a medida do que não nos pertence.
Reverência
é aceitar que nem tudo está à disposição da nossa vontade.
No
dia a dia, ela se manifesta de modos quase invisíveis:
- no cuidado ao entrar em um hospital,
falando mais baixo sem que ninguém peça;
- no respeito espontâneo diante de um
idoso que não conhecemos;
- no silêncio que se impõe quando
alguém conta uma dor real.
Reverenciar
é saber quando não transformar tudo em opinião, piada ou postagem. É
conter o impulso de explicação total. Onde o espanto pergunta “o que é isso?”,
a reverência responde: “talvez não seja tudo para mim”.
Aqui,
espanto e reverência se encontram: o primeiro abre o mundo; a segunda impede
que o fechemos rápido demais.
Nossa
época sofre menos por falta de respostas e mais por saturação delas. Tudo é
comentado, analisado, ranqueado. O mistério virou falha técnica; o silêncio,
constrangimento.
O
resultado é um mundo sem espanto e, portanto, sem reverência.
Se
nada nos espanta, nada nos exige cuidado.
Isso
aparece:
- no consumo apressado de tragédias
como se fossem notícias equivalentes;
- na ironia constante diante de
qualquer grandeza;
- na incapacidade de permanecer diante
de algo sem transformá-lo em conteúdo.
Sem
espanto, perdemos a pergunta.
Sem
reverência, perdemos o limite.
E
sem ambos, a experiência empobrece: tudo é vivido, mas pouco é realmente encontrado.
Recuperar
o espanto e a reverência não exige mudar de vida, mas mudar de ritmo. É uma
ética do olhar lento.
Ela
se ensaia em gestos simples:
- olhar alguém falando sem antecipar a
resposta;
- aceitar que certos acontecimentos não
“servem para nada”;
- suportar a estranheza de não entender
imediatamente.
Nesse
sentido, o espanto não nos tira do mundo — ele nos devolve a ele. E a
reverência não nos cala — ela nos ensina quando falar seria uma violência.
Talvez
maturidade não seja acumular certezas, mas aprender onde colocá-las com
delicadeza.
Espanto
e reverência não são estados elevados reservados a místicos ou filósofos. São
disposições esquecidas, sufocadas pela pressa e pela necessidade de controle.
Espantar-se
é permitir que o mundo nos desinstale.
Reverenciar
é não correr para se reinstalar no comando.
Entre
um e outro, surge uma forma mais densa de presença: menos ansiosa por sentido,
mais disponível para recebê-lo.
E
talvez — só talvez — seja aí que a vida, sem fazer anúncio, volte a falar.