Estava aqui pensando: ainda somos o que nascemos para ser?
A
gente costuma ouvir desde pequeno que certas pessoas "nasceram para
aquilo". Tem gente que "já nasceu líder", "tem o dom do
cuidado", ou "é artista desde o berço". E o curioso é que, às
vezes, a própria pessoa acredita nisso também. Mas será mesmo que existe algo
em nós que já vem pronto, desde sempre? Algo essencial que define quem somos, o
que queremos, e como devemos viver? Foi pensando em uma conversa sobre profissões
que não combinam com a pessoa, sobre jeitos de ser que "não têm nada a ver
com ela", que o tema do essencialismo me voltou à cabeça.
Na
filosofia, o essencialismo é essa ideia de que as coisas — inclusive as pessoas
— têm uma essência fixa e imutável. Que há algo dentro de nós, anterior a
qualquer escolha, que determina o que somos de verdade. É uma noção antiga, com
raízes em Platão e Aristóteles. Para Platão, existiria um mundo
das ideias perfeitas, e tudo que vemos é uma cópia imperfeita daquilo. Para
Aristóteles, cada ser tem uma essência que define seu propósito: a semente tem
a essência da árvore, o cavalo tem a essência de correr, o ser humano, a de
pensar.
Mas
o essencialismo não ficou lá na Grécia Antiga. Ele atravessa os séculos e se
esconde nas frases que repetimos no dia a dia: "mulher que é mulher cuida
da casa", "homem que é homem não chora", "você não nasceu
pra isso". Ou seja, usamos a ideia de essência pra justificar o que as
pessoas podem ou não podem ser. E isso pode ser bem limitador.
O
essencialismo também aparece com força nos debates sobre cultura, imigração e
emigração. Quando se diz, por exemplo, que “o brasileiro é naturalmente
caloroso” ou que “o europeu é frio por essência”, estamos usando uma lente
essencialista para descrever comportamentos que, na verdade, são históricos,
sociais e aprendidos. Esse tipo de visão pode ser perigoso, pois congela
culturas em estereótipos e dificulta o acolhimento de quem migra. Um imigrante
é, muitas vezes, visto como alguém que “não pertence”, como se fosse impossível
ele se adaptar sem “trair sua essência”. Já quem emigra pode sofrer cobranças
para “não esquecer suas raízes”, como se fosse errado mudar. O essencialismo
cultural alimenta fronteiras invisíveis, mesmo quando os passaportes dizem que
a viagem foi feita. Entender que identidades culturais são flexíveis e híbridas
permite que pessoas vivam o que são hoje, sem serem prisioneiras do que se
espera que sejam.
As
questões de gênero também são fortemente atravessadas pelo pensamento
essencialista. Quando se diz que homens são naturalmente racionais e mulheres,
naturalmente emocionais, está se ignorando o papel das construções sociais e
das expectativas culturais. Crianças são criadas com brinquedos, roupas e
ideias diferentes desde o berço, e depois essas diferenças são lidas como
“naturais”. Pior: pessoas trans ou não-binárias muitas vezes são vistas como
“contra a natureza” simplesmente porque não se encaixam nos padrões fixos do
que se supõe ser um homem ou uma mulher. Mas o gênero, como tantas outras
dimensões da vida humana, pode ser visto como uma experiência vivida, múltipla
e fluida, e não como algo pré-definido por um manual biológico. Questionar o
essencialismo de gênero é abrir espaço para mais liberdade, mais respeito e
mais possibilidades de ser.
O
existencialismo, especialmente com Jean-Paul Sartre, vai criticar essa
visão. Para ele, a existência vem antes da essência. Ou seja, nós não temos uma
essência pronta — nós a construímos com nossas escolhas. Não há um “ser mulher”
ou “ser homem” dado por natureza, mas um tornar-se. Simone de Beauvoir
diria: “Não se nasce mulher: torna-se mulher”. Aqui, a liberdade entra
em cena. Somos responsáveis pelo que fazemos com o que fizeram de nós.
No
cotidiano, pensar fora do essencialismo significa permitir que uma menina
queira ser mecânica e que um menino possa gostar de balé sem que ninguém diga
que “isso não combina com ele”. É aceitar que alguém pode mudar de carreira aos
50 anos, ou que uma pessoa tímida pode se tornar uma excelente oradora. O
perigo do essencialismo é que ele parece inocente, mas acaba sustentando
preconceitos, desigualdades e até violências.
O
filósofo contemporâneo brasileiro Vladimir Safatle chama atenção para
como o essencialismo serve muitas vezes para conservar estruturas de poder:
“Toda
vez que alguém disser que algo é da ‘natureza humana’, é bom desconfiar — essa
frase costuma ser o fim da conversa e o início da dominação.”
Nas
redes sociais, o essencialismo ganha uma vitrine global e um microfone potente
— ali, traços individuais ou culturais são frequentemente reduzidos a rótulos
rápidos e julgamentos prontos: “isso é típico de mulher”, “isso é coisa de
latino”, “fulano tem alma de artista”, como se um vídeo curto ou uma frase de
efeito revelasse a essência profunda de alguém. Nesse palco planetário, onde
bilhões se observam em tempo real, o essencialismo é reforçado pelos algoritmos
que preferem identidades fixas e previsíveis, fáceis de segmentar e vender. O
perigo é que, sob o pretexto da autenticidade, muitos acabam encenando versões
de si mesmos que se encaixem nas expectativas do público — virando personagens
de uma essência construída para ser consumida.
Desconfiar
do essencialismo não significa negar que temos traços, preferências,
temperamentos. Mas significa entender que isso tudo é matéria viva, que muda
com o tempo, com os encontros, com as experiências. Talvez não sejamos aquilo
que nascemos para ser — talvez sejamos aquilo que ousamos construir em nós
mesmos.
E
isso é tão mais libertador, não?
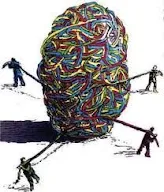
Nenhum comentário:
Postar um comentário