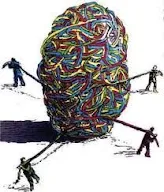Eu
sempre achei curioso como, na vida cotidiana, a gente convive com um tipo de
preconceito que ninguém gosta de admitir que pratica: o preconceito
intelectual. Ele não aparece com insultos explícitos, não deixa marcas visíveis
e raramente alguém aponta o dedo dizendo “olha, isso aí é preconceito”. Ele é
mais sutil, quase elegante, um preconceito que anda de gravata, óculos de
armação grossa e uma certa pose de “eu sei das coisas”.
Ele
surge quando alguém tenta explicar um assunto simples usando palavras difíceis
só para marcar território. Ou quando uma pessoa, diante de algo que nunca leu,
afirma com convicção que “não presta” — não porque analisou, mas porque não é
do seu repertório. Surge também no trabalho, quando alguém desacredita a ideia
do colega “menos instruído”, mesmo antes que a proposta seja apresentada.
Preconceito intelectual não julga a ideia: julga quem está pensando.
No
fundo, é uma maneira de hierarquizar pessoas por aquilo que supostamente sabem
— ou parecem saber. Mas saber não é ostentação; saber é convivência, movimento,
curiosidade. Só que, muitas vezes, o conhecimento vira uma arma simbólica para
excluir, para humilhar, para diminuir.
A
raiz do preconceito: saber como poder
Michel
Foucault, em sua eterna briga com as estruturas de poder,
lembrava que “todo saber é uma forma de poder”. Não por causa do conhecimento
em si, mas porque a sociedade transforma certos saberes em legitimadores de
autoridade. E, quando um conhecimento ganha prestígio, automaticamente os que
não dominam esse saber são tratados como inferiores. É aí que nasce o
preconceito intelectual: não da inteligência, mas do uso social que fazemos
dela.
É
interessante observar como isso aparece nas profissões. No escritório, a
opinião da pessoa com diploma é considerada naturalmente mais válida do que a
do funcionário que “só terminou o ensino médio”. O engraçado é que, muitas
vezes, o segundo sabe mais da prática e enxerga soluções que o primeiro nunca
imaginaria — mas a voz dele vale menos. Não por falta de capacidade, mas por
falta de “cartório cultural”.
No
cotidiano, pequenas situações mostram esse viés:
–
quando alguém ri do sotaque que entrega origem humilde, como se pronúncia
anulasse argumento;
– quando olhares de desprezo surgem em mesas onde o “intelectualizado” não
admite que o conhecimento popular também é sabedoria;
–
quando a pessoa que sabe pouco se cala por medo de parecer “burra”, como se a
ignorância fosse uma sentença, e não uma etapa de aprendizado.
O
mito da superioridade cognitiva
O
preconceito intelectual também impede encontros. Ele cria muros invisíveis
entre mundos sociais. Quem se acha intelectualmente superior vive como se
estivesse em uma torre, olhando o restante da sociedade de cima — mas sem
perceber que a vista lá de cima é limitada, porque só enxerga a perspectiva
própria.
A
filósofa brasileira Marilena Chaui já alertava que nossa cultura carrega
uma “ideologia da competência”: a crença de que só quem domina certos códigos
tem direito de falar, participar, ser ouvido. É a ideia de que existe um tipo
de pessoa autorizada a ter opinião — e o resto deve obedecer.
Essa
crença é perigosa porque transforma conhecimento em um clube exclusivo. E
ninguém aprende nada novo dentro de um clube exclusivo; aprende-se na troca, na
conversa, no encontro. O preconceito intelectual, portanto, não atrapalha
apenas o outro — ele empobrece quem o praticou.
O
outro lado: a vergonha intelectual
Existe
também o outro lado desse fenômeno: a vergonha de demonstrar conhecimento. É o
medo de parecer “metido”, “sabichão”, “intelectual demais”. É como se pensar
profundamente fosse um ato proibido, um exagero. Assim, a sociedade cria um
paradoxo: despreza quem sabe pouco, mas também reprime quem sabe muito. No meio
do caminho, ficamos todos empobrecidos.
Caminhos
para romper o ciclo
Lidar
com o preconceito intelectual exige uma humildade muito específica: a humildade
cognitiva. Não é fingir que não sabe nada, mas admitir que ninguém sabe tudo.
Que conhecimento é fluxo. Que toda pessoa — da mais instruída à mais simples —
carrega um pedaço do mundo que você não conhece.
A
quebra desse preconceito começa quando olhamos para a inteligência do outro sem
impor hierarquias. Quando entendemos que existem muitas formas de saber: o
saber do livro, o saber da experiência, o saber intuitivo, o saber emocional, o
saber artesanal. Nenhum é menor. Nenhum é dispensável.
Aprender
é habitar o mundo com menos arrogância
O
preconceito intelectual é uma forma silenciosa de violência simbólica. Ele
humilha, exclui e diminui, quase sempre sem que percebamos. Mas, ao
reconhecê-lo, abrimos espaço para um mundo mais plural, onde o conhecimento
deixa de ser instrumento de poder e volta a ser aquilo que deveria ser desde o
início: uma forma de convivência.
No
fim, talvez a verdadeira inteligência seja esta: a capacidade de aprender sem
se sentir superior, e de ensinar sem fazer o outro se sentir menor.