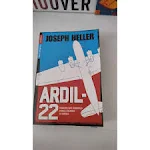Às
vezes a gente acha que o tal “despertar” é coisa de monge tibetano ou de guru
indiano cercado de incenso e mantras complicados. Parece distante da nossa vida
real — essa que tem boleto para pagar, fila no mercado e mensagens não lidas no
celular. Mas e se o despertar não fosse um evento místico reservado a poucos? E
se ele pudesse acontecer numa segunda-feira comum, enquanto você espera o café
ficar pronto ou atravessa a rua distraído? Talvez o caminho para o despertar
seja bem mais simples — e mais perto — do que imaginamos.
Talvez
o maior engano sobre o despertar seja pensá-lo como um destino — uma linha no
horizonte onde finalmente descansaremos, completos, invulneráveis. Mas o
despertar, como todo evento real da alma, não é um lugar onde se chega. É um
modo de estar no caminho.
Quando
criança, lembro de ver minha avó rezando de madrugada, em silêncio, enquanto
esperava a água aquecer para passar o café. Ela não meditava como os monges do
Oriente, nem lia livros de sabedoria. Mas ali, no vapor da chaleira, havia um
instante de despertar. Ela sabia, sem saber que sabia, que a vida acontece
entre o antes e o depois — no exato ponto onde se ouve a água borbulhar. Lembro
também de minha mãe repetindo os passos da sabedoria, hoje, mais velho me sento
feliz de ter nascido num ambiente de despertos e consciente sigo a caminhada.
Esse
é o segredo que o mundo moderno ignora: que o despertar não é uma coisa
separada da vida comum. Ele se insinua na conversa distraída do elevador, no
olhar demorado para o céu antes de um compromisso, no suspiro de cansaço que
nos revela o limite. Quando paramos para sentir o próprio cansaço, já estamos
despertando.
Um
amigo me contou que o maior momento de clareza que teve não foi num retiro na
montanha, acreditem, foi numa fila, enquanto esperava ansioso ser atendido. De
repente, percebeu o ridículo da própria pressa, o desperdício da ansiedade. Riu
sozinho. E ali — no lugar mais banal — aconteceu um relâmpago de lucidez. Por
um instante, ele estava de verdade.
A
tradição zen budista gosta dessas pequenas epifanias sem glamour. Conta-se a
história do monge que pediu ao mestre a receita do despertar. O mestre
respondeu: "Quando come, coma; quando anda, ande; quando dorme,
durma." Parece tolice. Mas quem de nós come sem mexer no celular? Quem
anda sem pensar no futuro? Quem dorme sem remorso do passado?
O
pensador brasileiro Huberto Rohden dizia que o despertar é acordar para a
unidade de tudo — ver que eu e o mundo não somos dois, mas um só movimento. Ele
usava a imagem do oceano: cada onda pensa ser separada, mas todas pertencem ao
mesmo mar. No instante do despertar, percebemos que não somos ondas isoladas,
mas o próprio oceano, vivo em cada forma.
No
entanto, o ego resiste. Ele quer que o despertar seja uma medalha, um título,
uma superioridade sobre os outros. Ele transforma o caminho em competição
espiritual. Por isso os verdadeiros despertos parecem humildes, quase
invisíveis. Como dizia Sri Ram, eles não possuem a sabedoria: são possuídos por
ela, sem esforço.
É
curioso como os momentos mais sinceros de despertar costumam ser involuntários.
Uma lágrima solta sem aviso, um cheiro da infância que escapa no ar, um toque
inesperado que nos faz voltar ao corpo. O gato que deita aos nossos pés, sem
pedir nada. A criança que nos olha como se fôssemos transparentes. São mestres
silenciosos que nos chamam ao presente.
O
perigo maior talvez seja espiritualizar o despertar demais — torná-lo
inalcançável. O trabalhador que acorda cedo para pegar dois ônibus e sustentar
a família também desperta, quando ama sem esperar retorno, quando sorri apesar
do peso do dia. O poeta sufocado na repartição desperta ao escrever um verso no
guardanapo. O pedreiro desperta ao ver o muro pronto, reto e firme, fruto de
suas mãos.
Há
uma velha parábola sufista que diz:
"Um
discípulo perguntou ao mestre: ‘Quanto tempo levarei para despertar?’ O mestre
respondeu: ‘Talvez toda a sua vida... se buscar demais. Mas se você esquecer a
busca e apenas viver, o despertar pode vir amanhã.’"
Esse
é o paradoxo: o despertar não se conquista — se permite. Ele é uma flor que
nasce no terreno limpo, não na terra ansiosa.
No
fim das contas, o caminho para o despertar é também o caminho da aceitação da
imperfeição. É perceber que a vida nunca será completamente resolvida, que o
caos é parte da dança, que o vazio também respira. Despertar é olhar para si
sem máscara, para o outro sem exigência, para o mundo sem defesa.
E
então, sem que se espere, o instante se abre. E a alma sorri, desperta, e volta
a caminhar.
Os
Obstáculos no Caminho do Despertar
Se
o despertar é simples como respirar, por que então é tão raro? Por que a maior
parte das pessoas parece atravessar a vida sem jamais abrir os olhos
interiores? A resposta talvez esteja nos próprios obstáculos que o ego coloca
no caminho — muralhas sutis, disfarçadas de virtudes, que mantêm a alma
adormecida.
O
medo de perder o controle
O
primeiro obstáculo é o medo — esse velho conhecido. Despertar é abrir mão do
controle absoluto sobre a vida. E isso apavora. Afinal, quem não quer garantir
um futuro seguro, uma imagem sólida, uma identidade previsível?
Na
prática, o medo se manifesta de modo simples: é o desconforto em ficar em
silêncio; é a impaciência no trânsito; é a necessidade de planejar cada detalhe
do amanhã para não ser surpreendido. Mesmo o ato de rolar distraidamente o
celular esconde o medo de estar só consigo mesmo.
O
despertar exige coragem para não saber. Para permitir o mistério. Para deixar a
vida surpreender.
O
apego à identidade
Outro
inimigo silencioso é o apego ao "eu" construído. A imagem que criamos
de nós mesmos — “sou advogado”, “sou tímido”, “sou uma pessoa correta” —
funciona como armadura contra o fluxo da vida. Só que armaduras pesam. E quem
carrega peso não desperta.
Há
quem confunda despertar com reforçar sua identidade espiritual: “sou um
buscador”, “sou evoluído”, “sou diferente dos adormecidos”. Mas esse é só o ego
disfarçado de santo.
Despertar
é morrer um pouco — para a velha imagem de si, para a história repetida, para
as certezas antigas. É permitir que o “eu” se renove a cada instante.
A
vaidade do saber
Quantos
buscam o despertar para serem especiais? Para serem vistos como sábios,
superiores, “despertos” entre os adormecidos?
Essa
vaidade sutil é um veneno. Pois enquanto o saber espiritual inflar o ego, o
real não pode ser visto. A verdade é humilde. Ela se mostra só aos que não
querem ser mais do que ninguém.
O
teósofo N. Sri Ram advertia: “A verdadeira sabedoria não é poder pessoal,
mas participação no todo. Não é superioridade, mas unidade.” O sábio de
verdade é invisível — age no mundo como a água: silenciosa, necessária, sem
vaidade.
O
desejo de resultado
Outro
obstáculo moderno é o desejo de resultado. Queremos “atingir” o despertar como
se fosse um objetivo de produtividade. Queremos prazo, método, certificado.
Mas
o despertar é criança selvagem: foge de quem o persegue demais. Ele acontece
quando a busca relaxa, quando a mente larga as rédeas. Como o sono: quanto mais
você se esforça para dormir, mais insone fica.
Krishnamurti
dizia: “Não busque a verdade; apenas veja o que é falso e abandone. O resto
virá sozinho.”
O
despertar não é conquista; é rendição.
Um
exemplo do cotidiano
Outro
dia, vi uma cena que resume tudo isso. Um senhor varria a calçada com lentidão.
A rua cheia de jovens correndo, carros acelerando, gente apressada com seus
fones de ouvido. E ele ali — varrendo com prazer. Sem pressa. De vez em quando
parava, olhava o céu, ajeitava o boné. Não ensinava nada, não discursava — mas
estava desperto. A vida, para ele, não precisava de mais nada.
Quantos
seriam capazes de varrer assim? Sem desejar o fim da tarefa? Sem irritação pelo
tempo "perdido"? Sem plano de fuga para o celular ou a fantasia
mental?
Esse
senhor era mestre sem querer. Este senhor sexagenário sou eu.
Os
obstáculos do despertar não são monstros fora de nós. São hábitos mentais,
confortos do ego, defesas aprendidas. Eles se dissolvem quando percebidos sem
medo. Não é preciso lutar contra eles — basta vê-los com clareza. O ver, puro e
sem julgamento, já começa a dissolver as muralhas.
Talvez
este seja o segredo: o despertar não é um esforço heroico, mas uma simplicidade
reencontrada.
O
caminho está aqui, agora, sob os nossos pés.