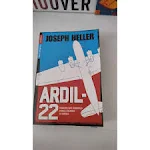Às
vezes eu me pego pensando — geralmente numa fila de supermercado, lugar sagrado
para epifanias de quinta categoria — como é curioso que a gente se repete. As
situações mudam, os cenários se rearranjam, as pessoas entram e saem, mas
nossas reações... ah, essas parecem sair do mesmo molde. Como se cada um de nós
carregasse um pequeno “roteiro automático” no bolso, pronto para ser
reproduzido sem muito questionamento. E é justamente nesse ponto que a questão
aparece: é possível reagirmos de modo verdadeiramente original?
Entre
o impulso e o hábito
Reagir
é, antes de tudo, uma ação que nasce do encontro entre algo que vem de fora e
algo que já está em nós. Esse “algo que já está em nós” costuma ser um combo de
memórias, medos, crenças, cansaços, expectativas e até vícios emocionais. Não
se trata apenas de escolha: muito do que reagimos é quase pré-escolhido por
anos de repetições.
Pense
em coisas simples:
- alguém te corta no trânsito →
irritação imediata;
- você recebe uma crítica inesperada →
defensiva automática;
- um elogio sincero → desconforto
engraçado, como se você não soubesse onde guardar as mãos.
Nessas
horas, a originalidade passa longe. Somos mais previsíveis que aplicativos que
completam frases.
A
pergunta filosófica: o que é ser original na reação?
A
originalidade aqui não significa extravagância, e muito menos teatralidade. Não
é reagir de modo estranho para parecer diferente. Originalidade é a
capacidade de reagir a partir da própria origem — do que é verdadeiramente seu,
não do que é herdado, treinado ou esperado.
Em
filosofia moral, existe uma distinção interessante entre:
- ação heterônoma:
quando reagimos porque algo externo determina;
- ação autônoma:
quando a reação nasce de um centro interno, lúcido.
Ser
original, nesse contexto, é tentar operar mais pela autonomia do que pela
heteronomia. Ou, dito no idioma do cotidiano: pausar antes de reagir. A
pausa é o espaço onde se insere a liberdade.
O
intervalo que devolve a autoria
Se
tem algo que a vida moderna detesta é intervalo. Tudo é imediato — respostas,
mensagens, opiniões, cancelamentos. Mas é justamente esse “micro intervalo”
entre estímulo e resposta que cria a possibilidade de originalidade.
Como
exemplo vamos a uma cena cotidiana:
Você
está prestes a responder uma mensagem atravessada e digitou algo meio ácido. Aí
você respira, lê novamente e pensa: “isso sou eu ou é só o meu cansaço de
terça-feira às 14h?”
Esse breve gesto já é originalidade em ação. Não no sentido de genialidade, mas
de autoridade sobre si mesmo.
Como
dizia N. Sri Ram, pensador que muito aprecio, a verdadeira ação nasce do
“ponto silencioso da consciência”, aquele lugar onde não estamos repetindo nada
— nem o mundo, nem os outros, nem os nossos próprios hábitos. Reagir a partir
desse ponto é dar ao acontecimento uma resposta não automática, quase inédita,
porque é feita agora, não reciclada do passado.
O
cotidiano como laboratório
Alguns
momentos do dia são ótimos para testar a originalidade da reação:
- Quando alguém é seco com você:
em vez de replicar a secura, tentar ver se é possível responder com
neutralidade — não como bondade protocolar, mas como escolha consciente.
- Quando um plano dá errado:
perceber o impulso de culpar alguém e substituí-lo por uma curiosidade
leve: “ok, o que faço com isso agora?”
- Quando um medo antigo aparece:
notar que ele é velho, mas você não precisa reagir como antes.
Esses
exercícios não nos transformam em santos (aliás, nem é o objetivo), mas nos
fazem notar algo precioso: ser original é não ser prisioneiro de antigas
versões de si mesmo.
A
arte de não repetir a alma
A
originalidade da reação não é um talento, mas uma vigilância serena. Ela nasce
quando a gente se permite ser menos automático, menos condicionado, menos
previsível até para nós mesmos. Quando paramos de usar a vida para confirmar
velhas narrativas internas e começamos a viver a partir do que realmente
sentimos agora, e não do que sentimos anos atrás.
No
fundo, reagir de modo original é um ato de presença. É uma declaração
silenciosa de que estamos ali — inteiros, atentos, donos do que fazemos. E
talvez seja essa, entre todas, a forma mais discreta e mais profunda de
liberdade humana. Então, fica aqui esta reflexão para o novo ano, cheio de
possibilidades e oportunidades.